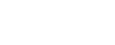Dez anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência: o STJ e a luta pela superação de limites e preconceitos
Dez anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência: o STJ e a luta pela superação de limites e preconceitos

Editado em 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI) representou um grande avanço para a proteção jurídica desse grupo social.
Ao longo da última década, essa legislação específica instituiu condições legais para o exercício da cidadania por todos os brasileiros com deficiência e serviu de alicerce para decisões judiciais que consagraram seus direitos. Baseada na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, a lei traz conceitos importantes para a inclusão social dessa parcela da população.
Ao lado de inovações como a adoção de um modelo biopsicossocial – abordagem que considera não apenas aspectos físicos, mas também sociais, culturais e ambientais na avaliação da deficiência –, a lei estabeleceu um compromisso com a acessibilidade, a autonomia e a liberdade das pessoas com deficiência.
O estatuto aborda aspectos como acesso à Justiça, direitos fundamentais (saúde, educação, lazer e trabalho, entre outros), acessibilidade, informação, comunicação, tecnologia assistiva, participação na vida pública e política, ciência e tecnologia.
Nesta matéria especial, são apresentados alguns julgados recentes nos quais o STJ interpretou as disposições da legislação voltada para a pessoa com deficiência.
Incapacidade absoluta só para menores de 16 anos
Diante das alterações promovidas pela LBI no Código Civil, a Terceira Turma reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para declarar a incapacidade relativa de um idoso com doença de Alzheimer que, em laudo pericial, foi considerado absolutamente incapaz e impossibilitado de gerir os atos da vida civil. O recurso foi julgado sob segredo de justiça.
Para o colegiado, a partir da Lei 13.146/2015, apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil. "O critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil", expôs o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze.
O ministro explicou que os objetivos da Lei 13.146/2015 são assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais.
Segundo o relator, a legislação trouxe alterações significativas para o Código Civil no tocante à capacidade das pessoas naturais – entre elas, a revogação dos incisos II e III do artigo 3°, os quais consideravam absolutamente incapazes aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e os que não pudessem exprimir sua vontade, mesmo em razão de causa transitória.
"A partir da entrada em vigor da Lei 13.146/2015, que ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, somente são consideradas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos", afirmou Bellizze.
Ações que envolvem relativamente incapazes estão sujeitas à prescrição
Essa alteração teve reflexos na prescrição. Em outubro de 2023, no julgamento do REsp 2.057.555, a Segunda Turma considerou que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua vontade (situação de enfermidade ou deficiência mental), a partir de 2016 passaram a ser considerados relativamente incapazes, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e ficaram sujeitos ao curso normal do prazo prescricional.
Segundo o colegiado, até a publicação do estatuto, as pessoas com deficiências mentais, sem discernimento para a prática de atos civis, eram consideradas absolutamente incapazes, e contra elas não corria o prazo prescricional.
No caso analisado, uma contribuinte, invocando o artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, ajuizou ação de restituição do Imposto de Renda recolhido no período de 2004 a 2015, ao argumento de que já sofria de Alzheimer e alienação mental irreversível desde 2004, sendo considerada absolutamente incapaz. O juízo de primeiro grau condenou a União a restituir o imposto do período, e o tribunal estadual firmou como marco inicial o mês de fevereiro de 2006, quando a contribuinte passou a manifestar alienação mental.
No recurso ao STJ, a Fazenda Nacional alegou que parte do direito da contribuinte estaria prescrito devido ao fato de ela ser relativamente incapaz, pois a prescrição só não correria contra pessoas absolutamente incapazes.
O relator, ministro Herman Benjamin, observou que a doença da contribuinte deixou de ser causa de incapacidade absoluta após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015. Porém, a prescrição não correu contra ela porque o caso em discussão se referia ao tempo decorrido antes da nova legislação.
Necessidade de alimentos para filho com doença mental é presumida
A maioridade não extingue, de forma automática, o direito de receber alimentos, mas estes deixam de ser devidos em razão do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. Contudo, para a Terceira Turma, quando se trata de filho com doença mental incapacitante, a necessidade dos alimentos se presume e deve ser suprida nos mesmos moldes que em razão do poder familiar.
No caso julgado sob segredo de justiça, o colegiado reformou acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que exonerou um pai da obrigação de continuar a pagar alimentos ao filho com doença mental crônica incapacitante, pois o rapaz havia atingido a maioridade e passado a receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de um salário mínimo.
A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o valor do BPC, ainda que agregasse qualidade de vida ao rapaz, era insuficiente para suprir as suas necessidades. A ministra verificou que a mãe, única cuidadora de fato do filho, sobrevivia da coleta de materiais recicláveis.


Ministra Nancy Andrighi
Na avaliação da relatora, "a singularidade do comprometimento mental do filho-alimentando, da qual decorre a sua avultada necessidade de suprimento material, e o evidente descompasso entre o baixo comprometimento paterno e a sobrecarga materna nos cuidados com a prole comum, impõem, ao menos, a manutenção da prestação de alimentos, tal qual previamente se fixara".
Direitos da pessoa com deficiência devem ser assegurados com prioridade
Após ajuizamento de ação de oferecimento de alimentos e o deferimento dos provisórios para filha com deficiência, o autor não pode desistir unilateralmente do processo, ainda que a contestação só tenha sido apresentada poucos dias após a formulação do pedido de desistência.
Com esse entendimento, a Terceira Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que mitigou a regra do artigo 485, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil para atender ao melhor interesse de uma menina com síndrome de Down, cuja necessidade de receber alimentos seria presumida. De acordo com essa norma processual, o autor da ação, antes de oferecida a contestação, não precisa do consentimento da parte contrária para desistir. O caso foi julgado sob segredo de justiça.
Na origem, um pai ajuizou ação de alimentos para a filha no valor de cinco salários mínimos, mas, ainda antes da contestação, formulou pedido de desistência. O tribunal fluminense entendeu que não houve justificativa plausível para a desistência, que se baseou no fato de a mãe da menina ter vendido um imóvel sem repassar a ele a parte que seria devida.
"O direito de autor de desistir da ação não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito e, com mais razão, quando a homologação da decisão seria prejudicial aos interesses de pessoa com deficiência, cuja efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação e à sua dignidade deve ser assegurada com prioridade pelo Estado (artigo 8º da Lei 13.146/2015)", disse o relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro.
Médica não pode ser curadora de paciente da clínica em que trabalhou
A Terceira Turma, por unanimidade, analisando um recurso sob segredo de justiça, entendeu que uma médica não podia ser nomeada para atuar como curadora de uma paciente que estava internada na clínica psiquiátrica onde ela trabalhou. Segundo o colegiado, o reconhecimento da inaptidão para a curadoria decorria de um possível conflito de interesses.
No caso, dois cidadãos recorreram ao STJ para mudar a curadora de sua irmã, diagnosticada com psicose esquizoafetiva e interditada diante da incapacidade de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil de cunho negocial e patrimonial. O juízo de primeiro grau e o TJSP haviam mantido como curadora uma médica que trabalhou na clínica onde a interditada estava internada.
Os irmãos alegaram que não foi demonstrado um critério capaz de justificar a nomeação da médica, pois ela não teria nenhum vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com a curatelada. Também sustentaram que o dono da clínica estaria cobrando um valor muito alto da paciente, o que indicaria conflito de interesse na manutenção da curadora.
O relator do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze, observou que, conforme o Código de Processo Civil, o Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao nomear o curador, o juiz deve dar preferência ao cônjuge e aos parentes do curatelado, podendo, residualmente, atribuir a curatela a outra pessoa, para atender ao melhor interesse do incapaz.


Ministro Marco Aurélio Bellizze
Ao analisar o caso, o ministro ponderou que o fato de haver a cobrança de altos valores pela clínica, relativamente aos custos da internação, sugeria possível conflito de interesse no eventual exercício da curatela pela médica que trabalhou no estabelecimento. Com isso, determinou o retorno do processo ao juízo de origem, para que procedesse à nomeação de novo curador.
Créditos: Carlos Felippe/STJ